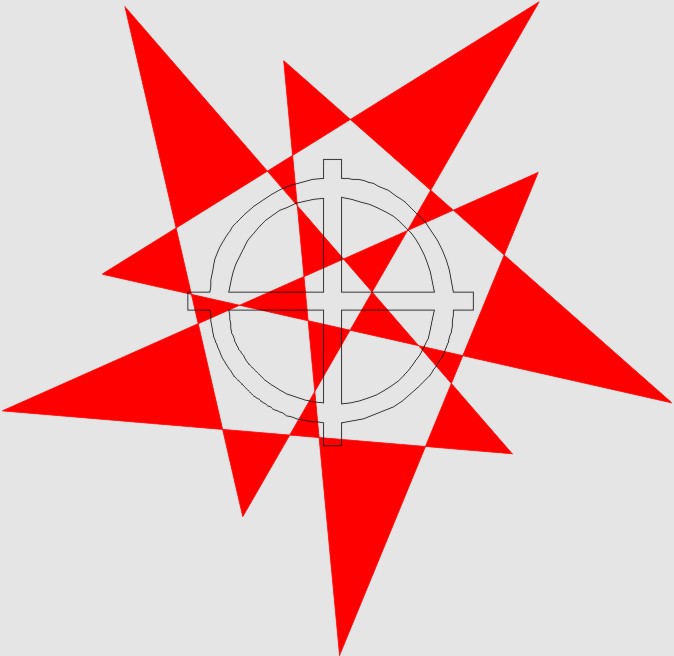
Distribuição dos Serviços por:
Resultados da Pesquisa:
VIOLÊNCIA:
O OLHAR DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO E
OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM OSASCO E REGIÃO
- Ricardo Fernandes Góes -
Monografia apresentada como trabalho de conclusão para o Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Fundação de Ensino para Osasco – PIBIC/UNIFIEO.
Curso de Comunicação Social - Jornalismo
Orientadora: Profª. Paula Cristina Veneroso
Osasco - agosto de 2005
Referencial Teórico
Tratar do tema violência é algo bastante complexo e que não se esgota. Isso é o que nos mostra a ampla literatura existente sobre o assunto, com abordagens das mais variadas áreas. A dificuldade se dá também pela compreensão que cada indivíduo tem sobre o que é violência, já que esta pode ser uma simples rajada de vento que destelha um galpão, ou a força com que as ondas se chocam com os rochedos à beira mar, para se falar de aspectos naturais, ou a fala mais ríspida de uma pessoa para outra, um tapa, um soco, a proibição de algo, a repressão, a falta de alimento, enfim, uma gama de situações que provocam a sensação de violência para uns e não para outros, mas que possui em comum as relações humanas, o convívio em sociedade, para falar da natureza de cada sociedade. Ou seja, tratar este tema implica em trabalhar as distintas terminologias e a polissemia dos termos (KUPSTAS, 1997; ARANHA, 1997; SCHRAIBER et al., 2003).
A vivência e a observação de várias células sociais vão nos mostrando suas peculiaridades, seja pela postura no relacionamento entre si e com o ‘estranho’, seja por sua forma de se vestir, seja por sua forma de se expressar. Fiorin (2001) coloca-nos que “afinal, sendo o homem um ‘animal racional’, organiza seu discurso como quer para exprimir o que quiser” (p. 44), porém, como a formação/construção desse homem se dá no meio social, na maior parte das vezes este agirá, reagirá, falará, pensará de acordo com a normatização do meio em que vive.
Segundo Michaud (1989, p. 12-4), deve-se atentar para as orientações normativas da sociedade para atribuir pesos e definições para a violência. As definições e pesos para o termo não são estanques, tendem a se modificar de acordo com o meio social em que estão inseridos. De modo geral, a violência pode ser considerada como aquilo que transgride uma regra social, uma norma jurídica ou institucional.
Este autor, em sua publicação, trabalha a questão a partir da definição do tema e sua etimologia apresentada no dicionário francês Robert (1964), que considera violência como:
a) o fato de agir sobre alguém ou de fazê-lo agir conta a sua vontade empregando a força ou a intimidação;
b) o ato através do qual se exerce a violência;
c) uma disposição natural para a expressão brutal dos sentimentos;
d) a força irresistível de uma coisa;
e) o caráter brutal de uma ação. (Id., 1989, p. 7)
Porém, ele não se detém apenas às definições do dicionário, busca também esclarecer sobre a variabilidade da violência, como a política, que é mais organizada, o que torna a repressão mais seletiva e mais adaptada (Ibid., p. 25). Citando A. Farge (Ibid., p. 34), que descreve a situação da vida parisiense no séc. XVIII, na qual “tanto os objetos como os gestos da violência espelham as condições de vida, a agressão é simplesmente uma resposta a outra violência, a dos tempos”. O autor, ao falar da criminalidade, acrescenta que se trata de uma “violência dos pobres entre si” , como resposta ao poder dominante, utilizando-se de espaços como os mercados, o trabalho, entre outros, que podem comprometer a manutenção da ordem pelo poder operante. Também, em conseqüência à dominação sofrida, a agressão adentra aos espaços conjugais na forma de violências físicas e sexuais.
Com relação às tecnologias da violência contemporânea, Michaud (1989, p. 47) dedica um item sobre a “contaminação de novas áreas”. Aqui se aborda a prática “nos campos de reeducação quanto às técnicas elementares do condicionamento através da mídia”. Indica-se não apenas o uso das técnicas, mas também a adoção dos líderes de opinião [também abordado por Wolf (1991), citando Robert Merton e Radclif Brown (1948), na qualidade de “personalidades de prestígio como veículo das mensagens”].
Com relação ao comportamento da mídia sobre a violência, Michaud (1989, p. 49) aponta para uma relação de dependência, principalmente no que se refere à necessidade dos jornais “transmitirem” informações. Note-se que os veículos, de acordo com seus interesses, podem ou não transmitir determinadas informações em seus textos e/ou imagens, que estarão dispostos de acordo com o “ponto de vista” do editor, o que, necessariamente, não expressa a verdade, mas uma possibilidade e/ou vertente da verdade.
Segundo Michaud (1989, p. 49-51), as distorções das imagens da violência veiculadas são apreendidas pelos receptores, ou seja, ao relatar experiências de violência, os receptores tendem a revelar acontecimentos não experimentados em realidade, mas apenas no âmbito de seu imaginário.
Quando se coloca a violência nas suas várias dimensões, abre-se também para a discussão de quais os agentes são os mais afetados pelas situações no cotidiano. Percebe-se que há tratamentos diferenciados para cada indivíduo, o que permite a visualização de classes menos favorecidas com relação à vivência da não-violência. Hoje já não se fala de violência como sendo este um termo independente, tratamos de violência doméstica, violência sexual, violência contra a mulher, violência contra a criança e contra o adolescente, violência contra o idoso, violência urbana, entre outros tipos que podem ser elencados. Essas denominações irão depender das condições determinantes para cada tipo de violência. Ao comentar resultados de estudo estadunidense sobre o tema, Michaud (1989, p. 63) indica “a presença de armas, o alcoolismo, antecedentes de conflitos” como condições determinantes para situações de violência. Também aponta para “os valores machistas” e “a socialização da violência em famílias violentas” como fontes importantes para a existência ou não da agressão. Reforça, ainda, que a violência, na realidade e segundo o caso, é “tolerada, proibida, ajeitada, encorajada, ou então passa despercebida como anódina”, ou seja, deixa de ser considerada como algo importante, que precisa ser discutido, deixa de ter maior visibilidade (Ibid., p. 66).
Esses valores machistas também são ressaltados por Saffioti (1999, p. 86) quando afirma que a “violência de gênero, inclusive em suas modalidades familiar e doméstica, não ocorre aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de gênero que privilegia o masculino”. Essa organização, quando em constante ameaça aos desprivilegiados, “induz muitas mulheres a suportar humilhações e outras formas de violência”, principalmente quando essa ameaça se traduz num empobrecimento, na perda do conforto que é oferecido por aquele que detém o poder na relação (Ibid., p. 87).
Apesar dessa situação espelhar um certo comodismo, as situações de confronto nem sempre ocorrem na condição de passividade de uma das partes; suportar determinada situação não significa propriamente manter-se em estado passivo, de aceitação, pois há uma reação implícita aí, que representa o processo de interação com o meio em que vive esse indivíduo. Saffioti (1997, p. 46) coloca: “não existe vítima passiva. Esta sempre reage, seja física, seja verbalmente.”
O que a literatura e a própria vivência têm mostrado é que o meio pode transformar o comportamento do indivíduo, de forma que sua agressividade alcance o estágio da agressão. O impulso para lidar com as adversidades da vida é inerente a cada ser, seja por meio de pulsão de vida ou pela pulsão de morte (FREUD apud MICHAUD, 1989, p. 82-3), o que é adaptado para a convivência em grupo. Essa adaptação vem num crescente, pois se inicia pela convivência em núcleos como a família, depois segue a rua, a escola, o local de trabalho, e carrega, muitas vezes, a expressão de um núcleo no outro, de forma que a todo instante sejam necessárias uma reavaliação e uma readaptação ao local em que se encontra. Porém, nem sempre isso é possível, pois a carga expressiva em nosso comportamento se amolda aos nossos ideais, o que pode significar uma transgressão para o outro. Nesse sentido, Michaud (1989, p. 56) propõe que “não há mais violência pura nem violência escandalosa e ela não é nem santa nem desonrosa: vale o que produz e o benefício que traz”, ou ainda, citando Merton, teórico funcionalista, discorre sobre estudo a partir das anomias e desvios (das regras) sociais e de como a sociedade pode valorizar certos fins sem se ocupar dos meios para obtê-los (Ibid., p. 94).
Da mesma forma que há uma variedade de circunstâncias que acarretam a violência, nos mais distintos locais e espaços sociais, também sua divulgação aparece em vários meios: nas mídias impressas (jornais, revistas, literatura), nas mídias de áudio (rádio), nas mídias audiovisuais (vídeos, cinema, televisão, computadores). Segundo Silva (2003, p. 157), “o que os meios da comunicação de massa tentam tornar popular desde sempre são temas que privilegiam a violência, abundantemente enfocados pelo jornalismo brasileiro”.
O que acontece, na verdade, é “que ninguém nasce pronto e tudo aquilo que achamos ‘natural’ é fruto de costumes, de tradições e de muito aprendizado” (BUORO et al., 1999, p. 31).
Particularmente sobre a televisão, e atualmente também sobre os computadores em decorrência da internet, é que recai o peso de influenciar seu público com a disseminação indiscriminada de programação com teor violento. Da mesma forma que a “informação” chega mais rapidamente a toda a população, menos condições de processamento esse público tem, principalmente quando a qualidade de ensino é precária e a formação da população deixa a desejar, o que traz repercussões psíquicas acarretadas pela prática constante de assistir a programas televisivos sem uma seleção prévia. Conforme Chimelli (2002, p. 39), há uma acentuada inversão de papéis estabelecida pela TV, quando, em realidade, “a violência não faz parte da vida normal. É a agressividade sem objeto, sem razão nem sentido... É a excitação dos instintos humanos para atos que contrariam a dignidade da pessoa, mostrando uma força física exercida de maneira ofensiva e passional.”
Os signos utilizados pela TV, para a apresentação de seus programas, “fictuam as desgraças, os problemas, as dores reais e, através disso, fazem com que os telespectadores convivam mais naturalmente com a miséria, com a violência, tornando mais digerível sua vida”. (MARCONDES FILHO, 1988, p. 48). Porém, a TV faz parte da situação de vida das pessoas apenas como um de seus componentes, pois a estrutura da vida moderna é que intensifica o “isolamento familiar, a falta de diálogo, o desinteresse dos membros da família, a solidão no trabalho, as relações superficiais com amigos, o desconhecimento em profundidade nos casais” (Id., 1988, p. 110), ou seja, os meios de comunicação, muitas vezes, ajudam a difundir a proposta de conquista de ‘um lugar ao sol’, mesmo que isso se dê por meio da violência, conforme afirma Buoro et al. (1999, p. 35).
Norwal Baitello Junior (1999, p. 82-3) propõe entender o uso dos meios de comunicação de massa, em especial aqueles que distanciam o público do processamento das informações quando oferecem a imagem processada e estéril como produto de consumo, como condicionadores para um dado comportamento, no caso da violência, a partir do diálogo com a leitura de Walter Benjamin “que traduz exatamente o processo de utilização indiscriminada de imagens para fins de redução do horizonte perceptivo do homem comum” e a compreensão da tipologia da violência estabelecida por Johan Galtung que busca definir, tanto na violência direta como na indireta ou estrutural, a violência contra a identidade.
Nestas definições são exploradas as manifestações “nos processos de dessocialização, ressocialização e geração de cidadãos de segunda classe” (direta) e por meio do processo de penetração e normatização (indireta), a partir do momento em que o “favorecido abre um espaço no desfavorecido”, assim como quando “se possibilita apenas uma visão limitada sobre as coisas” (Ibid., p. 82-3).
Nessa linha de raciocínio, Baitello Junior (1999, p. 84) complementa com a dimensão dos recortes simbólicos e imagéticos, a partir da criação “de grandes complexos de vínculos comunicativos” que, uma vez inseridos em grupos, tribos, crenças, sociedades e culturas, “não apenas podem interferir na vida das pessoas, como de fato determinam seus destinos, moldam sua percepção, impõem-lhes restrições, definem recortes e janelas para o seu mundo”.
A título de exemplificação, porém sem a pretensão de esgotar o tema, seguem abaixo algumas definições sobre os tipos de violência, tendo como base a publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p. 16-22), Violência intrafamiliar – Orientações para a prática em serviço (Cadernos de Atenção Básica n. 8, Série A – Normas e Manuais Técnicos, n. 131):
Violência física: ocorre quando há relação de poder entre pessoas, sendo que uma delas cause ou tente causar dano não acidental, por meio do uso de força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Segundo concepções mais recentes, o castigo repetido, não severo, também é considerado violência física.
Dentre as formas de manifestação desse tipo de violência, enquadram-se: tapas; empurrões; socos; mordidas; chutes; queimaduras; cortes; estrangulamento; lesões por armas ou objetos; obrigar ao uso de medicamentos desnecessários ou inadequados, assim como ao uso de álcool, drogas ou outras substâncias, inclusive alimentos; retirar à força de casa; amarrar; arrastar; arrancar a roupa; abandonar em lugares desconhecidos; e causar danos à integridade corporal decorrentes de negligência (omissão de cuidados e proteção contra agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre outros).
Violência sexual: é toda ação na qual uma pessoa em relação de poder e por meio de força física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma outra ao ato sexual contra a vontade, ou que a exponha em interações sexuais que propiciem sua vitimização, da qual o agressor tenta obter gratificação. A violência sexual ocorre em uma variedade de situações como estupro, sexo forçado no casamento, abuso sexual infantil, abuso incestuoso e assédio sexual.
Dentre as formas de manifestação desse tipo de violência, incluem-se: carícias não desejadas; penetração oral, anal ou genital, com pênis ou objetos de forma forçada; exposição obrigatória a material pornográfico; exibicionismo e masturbação forçados; uso de linguagem erotizada em situação inadequada; impedimento ao uso de qualquer método contraceptivo ou negação por parte do parceiros (a) em utilizar preservativo; ser forçado (a) a ter ou presenciar relações sexuais com outras pessoas, além do casal.
Estupro: é todo ato de penetração oral, anal ou vaginal, utilizando o pênis ou objetos e cometido à força ou sob ameaça, submetendo a vítima ao uso de drogas ou ainda quando esta for incapaz de ter julgamento adequado. A definição do Código Penal, de 1940, delimita os caso de estupro à penetração vaginal mediante violência. Esta definição é considerada restrita e atualmente encontra-se em revisão. A nova redação propõe definição mais ampla, que acompanha as normas médicas e jurídicas preponderantes em outros países.
Abuso sexual na infância ou na adolescência: define-se como a participação de uma criança ou de um adolescente em atividades sexuais que são inapropriadas à sua idade e ao seu desenvolvimento psicossexual. A vítima é forçada fisicamente, coagida ou seduzida a participar da relação sem ter necessariamente a capacidade emocional ou cognitiva para consentir ou julgar o que está acontecendo.
Abuso incestuoso: consiste no abuso sexual envolvendo pais ou outro parente próximo, os quais se encontram em uma posição de maior poder em relação à vítima.
Costuma ser mantido em sigilo pela família, dado seu alto grau de reprovação social, embora ocorra entre diferentes grupos socioeconômicos, raciais e religiosos. Condenado entre os tabus primordiais de nossa sociedade, recai sobre a vítima uma forte carga de culpabilização.
Tanto nos casos de abuso incestuoso como nos casos de assédio sexual, são relevantes as normas familiares, nas quais preponderam a autoridade parental e a reverência a esta autoridade (temor reverencial), mesmo quando há ameaça, constrangimento e abuso sexual. Estes aspectos transcendem a família e podem ser percebidos em outras estruturas sociais e culturas com hierarquia rígida calcadas sobre uma autoridade inquestionável, facilitando o abuso de poder.
Sexo forçado no casamento: é a imposição de manter relações sexuais no casamento. Devido a normas e costumes predominantes, a mulher é constrangida a manter relações sexuais como parte de suas obrigações de esposa. A vergonha e o medo de ter sua intimidade devassada, a crença de que é seu dever de esposa satisfazer o parceiro, além do medo de não ser compreendida, reforçam esta situação.
Assédio sexual: pode ser definido por atitudes de conotação sexual em que haja constrangimento de uma das partes, através do uso do poder de um (a) superior na hierarquia, reduzindo a capacidade de resistência do outro.
Apesar do assédio sexual ser um problema cujo reconhecimento e visibilidade têm se acentuado nas relações profissionais com o crescimento da inserção da mulher no mercado de trabalho, há séculos também existe no interior das famílias e outras instâncias da organização social.
A dependência econômica, juntamente com o medo de ser desacreditado (a) e a vergonha, são fatores que impedem a vítima de denunciar a situação.
O assédio sexual se caracteriza pela dissimulação do assediador e pelos efeitos provocados à vítima. São características do assédio: a clara condição para dar ou manter um emprego, posição socioeconômica ou posição diferenciada com implicações nas relações familiares; a influência na carreira profissional; o prejuízo no desempenho profissional e/ou educacional. Dentre as formas de ação do assediador, incluem-se: portas fechadas; sussurros; olhares maliciosos; comentários insistentes e não diretos; ameaças veladas.
Violência psicológica: é toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Nessa acepção, incluem-se: insultos constantes; humilhação; desvalorização; chantagem; isolamento de amigos e familiares; ridicularização; manipulação afetiva; exploração; negligência (atos de omissão a cuidados e proteção contra agravos evitáveis como situações de perigo, doença, gravidez, alimentação, higiene, entre outros.); ameaças; privação arbitrária da liberdade (impedimento de trabalhar, estudar, cuidar da aparência pessoal, gerenciar o próprio dinheiro, brincar, etc.); confinamento doméstico; críticas pelo desempenho sexual; omissão de carinho; negar atenção e supervisão.
Violência econômica ou financeira: são todos os atos destrutivos ou omissões do (a) agressor (a) que afetam a saúde emocional e a sobrevivência dos membros da família. Dentre suas formas, incluem-se: roubo; destruição de bens pessoais (roupas, objetos, documentos, animais de estimação e outros) ou bens da sociedade conjugal (residência, móveis e utensílios domésticos, terras e outros.); recusa de pagar pensão alimentícia ou de participar nos gastos básicos para a sobrevivência do núcleo familiar; uso de recursos econômicos de pessoas idosa, tutelada ou incapaz, destituindo-se de gerir seus próprios recursos e deixando-a sem provimentos e cuidados.
Violência institucional: é aquela exercida nos e pelos serviços públicos, por ação ou omissão. Pode incluir desde a dimensão mais ampla da falta de acesso à má qualidade dos serviços. Abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários e profissionais dentro das instituições, até por uma noção mais restrita de dano físico intencional. Esta violência pode ser identificada de várias formas: peregrinação por diversos serviços até receber atendimento; falta de escuta e tempo para a clientela; frieza, rispidez, falta de atenção, negligência; maus-tratos dos profissionais para com os usuários, motivados por discriminação, abrangendo questões de raça, idade, opção sexual, gênero, deficiência física, doença mental; violação dos direitos reprodutivos (discriminação das mulheres em processo de abortamento, aceleração do parto para liberar leitos, preconceitos acerca dos papéis sexuais e em relação às mulheres soropositivos (HIV), quando estão grávidas ou desejam engravidar); desqualificação do saber prático, da experiência de vida, diante do saber científico; violência física (p.ex.: negar acesso à anestesia como forma de punição, uso de medicamentos para adequar o paciente a necessidades do serviço ou do profissional, entre outros); detrimento das necessidades e direitos da clientela; proibições de acompanhantes ou visitas com horários rígidos e restritos; críticas ou agressões dirigidas a quem grita ou expressa dor e desespero, ao invés de se promover uma aproximação e escuta atenciosa visando acalmar a pessoa, fornecendo informações e buscando condições que lhe tragam maior segurança do atendimento ou durante a internação; diagnósticos imprecisos, acompanhados de prescrição de medicamentos inapropriados ou ineficazes, desprezando ou mascarando os efeitos da violência. Por exemplo, quando uma mulher chega à emergência de um hospital com ‘crise histérica’ e é imediatamente medicada com ansiolíticos ou encaminhada para os setores de psicologia e psiquiatria, sem sequer ter uma história e queixas registradas adequadamente. A causa de seus problemas não é investigada e ela perde mais uma chance de falar sobre o que está acontecendo consigo.
Vários autores apontam para a formação de rede de serviços e o trabalho multiprofissional como forma de contenção das situações de violência. A rede, operando exteriormente aos serviços, e as equipes multi, trabalhando internamente, conjugam a operacionalização e apreensão da polissemia dos termos relativos às várias apresentações dos usuários nos serviços, assim como favorecem os vários olhares e a identificação mais rápida das situações de violência. Um modelo de estrutura em rede oferecido na publicação do Ministério da Saúde é a intersecção de serviços vinculados à saúde, à justiça e à segurança, à assistência social e do trabalho e à educação (BRASIL, 2001, p. 88). Um outro modelo conjuga serviços de assistência médica, de assistência psicológica, de assistência policial, de assistência jurídica, além de também poder contar com serviços de grupos de suporte comunitário, grupos religiosos, grupos culturais e grupos educativos (SCHRAIBER; d’OLIVEIRA, 2003, p. 26-9).
O tema tem suscitado debates em vários âmbitos, seja em nível nacional ou internacional, e tem servido de pauta para organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas - ONU e Organização Mundial da Saúde – OMS, a primeira no que diz respeito aos direitos humanos e a segunda adotando desde 1996 a violência como um problema fundamental de saúde, o que originou metas de “aumentar a consciência acerca da violência no mundo e deixar claro que a violência pode ser prevenida” a partir dos princípios fundamentais da saúde pública que dá a compreensão de causas e conseqüências de seus problemas (KRUG et al., p. 21, 2002).
Há uma influência dos meios de comunicação de massa, porém isso não significa que ela ocorra no mesmo grau com todos os indivíduos (WOLF, 2002, 21-132; GREGÓRIO et al., 2002, p. 76-7). Da mesma forma que não descortinamos as fórmulas de sedução para os mais variados produtos, dentre eles a programação televisiva, nem sempre a totalidade dos indivíduos tem acesso e consciência disso. Voluntária ou involuntariamente, o consumo pelas marcas vai se perpetuando.
Vários autores têm pesquisado sobre os mecanismos dos meios de comunicação de massa, desde sua origem até os tempos atuais, de forma que se trata de assunto que não se esgota e é trabalhado pela literatura das diversas áreas do conhecimento, especialmente das ciências humanas. Vale-se também de pesquisas como do Censo Demográfico 2000 – Censo 2000 e do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional - Inaf 2001 que apontam para altos percentuais de consumo da população investigada para produtos como televisão (86,9% pelo Censo e 81% pelo Inaf) e rádio (87,9% pelo Censo e 78% pelo Inaf) (IBGE, 2001; RIBEIRO, 2003).
Considera-se para este trabalho essa influência como fato consumado e se propõe pensar a repercussão disso quando se imagina o volume de alunos de graduação que objetiva sua formação e reprodução de informações no cotidiano da carreira escolhida.
Conforme nos aponta Saffioti (1997, p. 57), “há necessidade de mobilizar a sociedade para a questão [da violência], uma vez que muitas vezes ela acontece dentro da própria casa”. E por que não ocupar esse espaço tão privilegiado, que é a universidade, para se começar e/ou dar continuidade para a discussão. Nos centros de ensino, encontram-se tanto os formadores, sejam eles os de carreira docente como os profissionais a serviço da comunidade acadêmica, como os alunos, ávidos por conhecimento e para reprodução deste.
<<< página anterior ||| <<< página inicial >>> ||| próxima página >>>